Promessa é dívida. Como nos comprometemos, começamos hoje a publicar uma grande reportagem feita pelo editor do Palavra Livre, jornalista Salvador Neto, já em fevereiro de 2020 quando São Paulo havia sofrido com enxurradas e enchentes, uma tragédia. A ideia era apurar a situação em Florianópolis, que já tinha um histórico de deslizamentos, desmoronamentos, alagamentos e cheias, inclusive com vítimas fatais.
A grande reportagem não foi publicada pelo contratante à época e ficou guardada com o jornalista até que neste final de semana voltou a acontecer a tragédia com muitas chuvas, e mortes em deslizamentos. Por isso vamos publicar em partes a reportagem feita com muitas entrevistas, pesquisas, contatos, visitas. Porque é preciso que se registrem os fatos para que, quem sabe, alguma autoridade ou fiscalizador público faça efetivamente a sua parte. Para que se evitem mortes, reduzam-se danos, que as pessoas vivam com mais segurança.
Com vocês a primeira parte da grande reportagem “À espera de uma nova tragédia? Boa leitura, e se puder, compartilhe com seus amigos e amigas, e apoie o jornalismo do Palavra Livre:
“À espera de uma nova tragédia? Capital tem cerca de 10% de sua população vivendo em áreas de risco.
O
Natal de 2011 se aproximava e a aposentada Claudete Ferreira, 65 anos, havia
chegado há poucos dias na sua casa no Morro da Mariquinha no centro de
Florianópolis. A pedido do filho Marcelo Ferreira, ela passaria alguns dias na
antiga casa enquanto sua residência atual passava por reformas, evitando gastar
com mais aluguel. Em 13 de dezembro de 2011 o deslizamento da Mariquinha
soterrou a vida de Claudete para sempre. Ali a tragédia deixou 21 famílias sem
suas casas, mais de duas mil pessoas sob risco, e cicatrizes na vida da família
Ferreira e na comunidade. Passados pouco mais de oito anos, a cicatriz na
Mariquinha está coberta por vegetação, mas ainda aberta para Marcelo Ferreira e
moradores. “A partir do que aconteceu a Prefeitura criou o primeiro núcleo de
Defesa Civil no maciço. Realizamos simulados de desastres, tudo isso em dois
anos. De lá para cá, está tudo parado”, aponta o fotógrafo Marcelo Ferreira
(49), liderança do Conselho Comunitário Cristo Redentor, e morador da
comunidade desde criança. Em 2012 cerca de duas mil famílias permaneciam em
áreas de risco. Em 2020 não existem dados oficiais, mas a expansão geométrica
da população, invasões e moradias irregulares dão o tom de preocupação que
deveria deixar em alerta permanente todas as autoridades do município:
Prefeitura, Câmara de Vereadores, Ministério Público, Judiciário e entidades.
Conhecedor
da realidade local e das comunidades vizinhas, Marcelo ressalta que as áreas de
risco amedrontam a população a cada chuva. As casas acima das pedras que ainda
ficaram após o deslizamento estão ocupadas por moradores, mas as medidas de
prevenção como o envelopamento das pedras e retirada do mato para reduzir
possibilidades de infiltrações de água, não acontecem. “Há vários pontos de
risco como a pedra de ferro e a pedra bicuda que precisam de atenção”, afirma
Ferreira. Todas as pedras do maciço do Morro da Cruz, da Costeira do Pirajubaé,
do Saco Grande e muitos outros sabem dos riscos, bem como as áreas de
alagamentos constantes na Tapera, Rio Tavares, Campeche, todos listados em
estudo elaborado pela UFSC em 2006. Muito bem detalhado e indicando ações, o
Plano Municipal de Redução de Riscos e Desabamentos (PMMR) apontava 59 áreas de
risco de deslizamentos na Capital, das quais oito eram de alto risco, como no
Morro da Penitenciária, Morro do Horácio, Morro do 25, Alto da Caieira do Saco
dos Limões, Tico-Tico, Nova Jerusalém e claro, Mariquinha. Para se ter uma
ideia da complexidade das áreas de risco, o PMMR identificava 35 assentamentos
precários em toda a cidade. Hoje já passam de 60 assentamentos, de norte a sul,
leste a oeste, continente ilha. A ação mais efetiva que nasceu baseada no PMMR
de 2006 foi o Projeto de Urbanização do Maciço do Morro da Cruz, com recursos
do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC).
Dados retirados de relatório da Controladoria Geral da União (CGU) esta semana mostram a envergadura do investimento em melhorias de infraestrutura voltadas à redução do risco de desastres em 16 comunidades: R$ 83.896.780,08 incluídos aí vários aditivos contratuais. O maior repasse foi federal no valor de R$ 52 milhões, e contrapartida de R$ 31 milhões por parte da Prefeitura de Florianópolis (R$ 18 milhões) e Casan (13 milhões). As comunidades atendidas foram Alto da Caieira, Angelo Laporta, José Boiteux, Laudelina Cruz Lemos, Monte Serrat, Morro da Mariquinha, Morro da Penitenciária, Morro da Queimada, Morro do 25, Morro do Céu, Morro do Horácio, Morro do Mocotó, Morro do Tico-Tico, Santa Clara, Serrinha e Santa Vitória.
Consultada pela reportagem, a Prefeitura de Florianópolis, via assessoria de comunicação, não deu respostas sobre a contrapartida do município, se já está concluída ou se faltariam obras a realizar. A Casan informou que sua participação foi concluída há 4/5 anos, e além de implementar a rede coletora, ainda se comprometeu a executar o ramal interno de esgoto de cada moradia até a rede, que seria obrigação dos usuários, mas que pelo valor social do projeto decidiu executar com orçamento próprio da companhia.
No centro, mas com falta de infraestrutura adequada
Apesar da localização central na Capital, as comunidades do Morro da Cruz, não tem a infraestrutura adequada e a população é de baixa renda. Estas obras, que ainda não foram totalmente concluídas conforme manifestações de lideranças da comunidade são também ressaltadas pelas comunidades por ter melhorado a qualidade de vida. À época do primeiro PMMF da UFSC em 2006 a estimativa era de residiam no Maciço cerca de 40 mil pessoas. Hoje, sem um censo oficial, pesquisadores da UFSC avaliam que sejam em torno de 60 mil moradores, cerca de 12% da população de Florianópolis.
A pesquisadora e doutoranda no programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC, Rita de Cássia Dutra, participou ativamente dos estudos e pesquisa de campo do primeiro PMMR. Segundo ela em 2006 apontavam 64 assentamentos precários na Capital, mas hoje devem existir aproximadamente 90 assentamentos. “Hoje podemos incluir o Siri, Panaia em Canasvieiras, Papaquara, Rio Tavares e outros. É preciso uma atualização urgente”, destaca a pesquisadora que percorreu todas as regiões da cidade. Junto a ela está o geólogo Juan Antonio Flores, professor doutor do Departamento de Geologia da UFSC (DGL/CFH/UFSC) que aponta a falta da promoção, por parte do poder público, de uma cultura permanente de prevenção a desastres. “Temos exemplos que funcionam no mundo, como o Japão, o México, EUA, onde as populações são bem informadas, treinadas e sabem como agir nos casos de tsunamis, terremotos, furacões e outros”, ressalta Flores.
Rita e Juan chamam a atenção para mais aspectos importantes não observados pelos gestores públicos da Capital. “Existem as cartas de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações de SC, mapas de toda a Capital para uso da gestão pública, tudo disponível no Serviço Geológico Federal para ser estudado e utilizado. Creio que nem saibam da existência disso”, afirma Juan que completa: “Estudo do Banco Mundial (BID) comprovou que investimento em prevenção é sete vezes mais barato que correr atrás de reconstruir”.
Para eles o PAC foi bom e ruim para as comunidades, pois trouxe benefícios de infraestrutura, algum saneamento, drenagem, pavimentações, mas também aumentou a especulação imobiliária, preços das terras, e ampliação desordenada de construções. “Há infelizmente uma construção coletiva do risco por parte da população, e sem fiscalização, orientação, manutenção das drenagens, saneamento, ampliam fortemente o risco dessas áreas. Falta também quase que totalmente a regularização fundiária, que dá o título de propriedade e inclui estas famílias no IPTU, entre outras coisas”, destaca Rita Dutra.
Faltam diálogo e políticas públicas integradas
Segundo Juan e Rita, é de extrema importância fortalecer a organização comunitária no trato das ações de redução de riscos de desastres. “A organização comunitária é a base de tudo para consolidar os Núcleos Comunitários de Defesa Civil (Nudecs) com o apoio e presença do poder público. Preparados, os moradores das áreas de risco melhoram a sua capacidade de prever, responder, recuperar e adaptar-se a cenários de novos riscos de detalhes”, frisam o professor e a pesquisadora.
O que se constata na conversa com as lideranças comunitárias é exatamente o oposto: não há diálogo permanente e organizado entre Prefeitura e seus órgãos, Câmara de Vereadores, com as comunidades. A reclamação é unânime de pedidos feitos e esquecidos. Falta, portanto politicas públicas que criem uma gestão integrada de redução de risco e desastres, de forma permanente e contínua. Não há uma política de interlocução clara, efetiva que criem diretrizes para evitar tragédias como as que aconteceram em 1995, 2008 e 2011 na Capital, só para citar algumas das vezes em que desastres naturais comoveram Florianópolis.
Maria
Lucelma de Lima, a Celma, mora há 35 anos na comunidade conhecida como Servidão
dos Lageanos, na Serrinha, área que fica localizada nos fundos da UFSC. Natural
de Joaçaba, a líder comunitária viu o morro crescer, casas serem construídas,
todos em busca de ter um lugar para morar com sua família, já que as condições
financeiras não permitiam à época, e como não permitem ainda hoje. Celma ajudou
a fazer muros, pavimentar as servidões, tem as mãos e o suor em cada pedaço
daquela área, que tem ainda muitos problemas a resolver. “Quando cheguei aqui
tinham poucas casinhas. A primeira foi de madeira, e em 2000 consegui fazer de
alvenaria. Aqui somos todos uma família”, ressalta ela. Celma é um retrato da
maioria dos moradores do Maciço. Trabalhou desde os sete anos de idade como
babá. Aos 16 conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada. Foi doméstica
e zeladora. Hoje está aposentada. “Só do trabalho, da luta não”, avisa.
Ela
participou da criação da Associação de Moradores da Serrinha em 1987, e hoje
ajudou a criar uma nova organização comunitária só com os moradores da área da
Servidão dos Lageanos, a Associação Força de Maria, cuja presidente é Terezinha
Adão, natural de Lages e filha de um dos moradores mais antigos da comunidade,
Horácio Adão. A iniciativa visa garantir a posse do terreno onde existem 87
casas, mais ou menos 400 moradores. “Quando viemos morar aqui, ninguém sabia
que a área era da universidade (UFSC). Passados quase 25 anos, vieram pedir
reintegração de posse. Nos organizamos, conseguimos apoio da defensoria
pública, e sensibilizamos a reitoria que veio depois, e em 2012 começamos a
negociar”. Foram 1023 reuniões que ela fez questão de registrar, inclusive com
áudios, todos os documentos guardados em sua casa até hoje.
A luta
valeu a pena. Segundo Celma, em março a Prefeitura vai assinar um termo de
cooperação com a UFSC, possibilitando obras de saneamento, água, escadarias e
outras benfeitorias, e o que é melhor, o início da regularização fundiária que
dará ao final o título de posse aos moradores, a dignidade que desejam. “Estou
aguardando e preparando tudo com a comunidade para esse momento”, avisa a
líder. Como área de risco, a região da Serrinha é uma que está em nível alto de
atenção e não é de hoje. Celma leva o repórter por onde os problemas correm por
entre as casas, esgoto a céu aberto, erosões, e aponta para uma área que,
segundo ela, já deslizou uma vez em 1995, e agora está novamente cheia de
casas. “Era um solo cheio de lixo, e as pessoas construíram ali. Aí desceu tudo,
a defesa civil disse para ninguém mais fazer casas. Aí não fiscalizaram, e
estão tudo aí novamente”, afirma. Ela confirma que falta diálogo entre o poder
público e as comunidades. “Discutir mais com a comunidade, coisa que não fazem.
Aí tudo fica melhor, e não dá problema maior”, ensina Celma.
Motorista profissional, e por isso mesmo conhecedor profundo de todas as comunidades e ruas do Maciço do Morro da Cruz e da capital, Paulo Silva (45) é natural de Pinhão (PR), e mora há quase 20 anos na Serrinha. Atual presidente da Associação de Moradores, ele também garante que falta muita coisa a ser feita no Maciço, mesmo com algumas melhorias das obras do PAC, e obras pontuais como uma praça feita pela Prefeitura. “Agora por falta de manutenção, o mato e entulhos tomam conta. Solicitamos serviços com ofício, e-mail, nem respostas dão. Depois do PAC, que ficou pela metade, ficamos esquecidos”, afirma Paulo.
A liderança comunitária também ressalta que nada de regularização fundiária andou, e que as invasões estão aumentando entre a Serrinha e o Alto da Caieira, sem água, esgoto, muito lixo. “As coisas estão piorando assim. Sem finalizar obras, esgoto sanitário, dar manutenção, podemos sim sofrer uma tragédia”. A avaliação dele é que a Prefeitura cuida muito bem das áreas nobres da Capital, a Câmara de Vereadores também, mas ambos esquecem-se da Serrinha e do Maciço. “Eles não querem conversa, e é preciso que exista essa aproximação, para que as coisas aconteçam, a comunidade precisa”, finaliza Paulo.
O gaúcho de Rio Grande, Sulimar Alves, 69 anos é outra testemunha das melhorias que as obras de infraestrutura e saneamento trouxeram para as comunidades do Maciço. Residente na comunidade do Jagatá no Morro da Queimada, bairro José Mendes, Sulimar abriu espaço em seu trabalho para o carnaval, onde ajuda na confecção das fantasias da Escola Copa Lord, para falar com a reportagem. Outro que valoriza as obras do PAC que deram qualidade de vida para a população, ele lamenta o que ele chama de suspensão das obras, já que elas não foram finalizadas, na sua avaliação.
“Graças a essas obras ainda escapamos de acidentes mesmo com grandes chuvas, mas até onde e até quando elas vão resistir à falta de manutenção, não sei! Já existem áreas deterioradas”, confirma. O líder comunitário entende que obras do nível das que foram feitas entre 2010 e 2014/15 exigem grandes montantes de recursos, mas há coisas que podem ser feitas para minimizar riscos. “Os prefeitos que vieram não tiveram interesse em continuar investindo. Falta vontade política para fazer outras obras importantes no Maciço. Sobre a prevenção necessária com a presença do poder público, defesa civil, ele diz não existir de forma permanente. “A Defesa Civil liga às vezes, mas é pouco para o grau de risco em que ainda vivemos”. O PAC nos deu visibilidade, agora não queremos visibilidade novamente por conta de tragédias”, alerta Sulimar.
A
reportagem ouviu outras lideranças e moradores das comunidades, que preferiram
o anonimato por receio de represálias. As críticas à falta de ação da
Prefeitura e Câmara de Vereadores são recorrentes. Eles acusam os poderes
públicos de omissão na fiscalização de novas edificações, invasões, ocupações,
por não equipar a Defesa Civil, não contratar mais fiscais para inibir retorno
das pessoas ou novas pessoas aos locais de alto risco que já foram interditados
anteriormente. Esses moradores apontam também interesses políticos no
“fechamento dos olhos” por parte de políticos interessados em votos. Há também
denúncias de cultura locatária clandestina no Maciço, com os mesmos interesses.
Em resumo, falta de presença do poder público da Capital na vida das pessoas,
possibilitando toda sorte de mudanças estruturais que ampliam o risco de
tragédias.
A conclusão é que é preciso o monitoramento permanente das áreas de risco da Capital, seja nas áreas passíveis de deslizamentos ou alagamentos, uma política permanente de cuidados com estas populações. É mais barato prevenir, que remediar. Sem o monitoramento constante, o risco nessas comunidades é constante, uma construção coletiva que é agravada por ações incorretas e sem orientação técnica. É possível reduzir esta vulnerabilidade e exposição dessa significativa parte da população da capital melhorando a sua capacidade de preparação, resposta e adaptação aos eventos climáticos extremos, pois pouco se pode fazer para os fenômenos naturais não ocorram. O tema das áreas de risco deve ser tema prioritário para os gestores da capital, Prefeitura, Câmara de Vereadores, e fiscalizadores como o Ministério Público.
- reportagem produzida por Salvador Neto, todos os direitos reservados – Parte 1







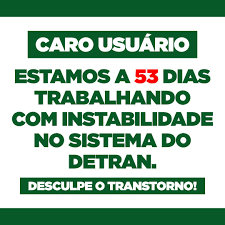




/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/j/z/t58D15RWSVlpWABMPdbw/comcap-florianopolis.png)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2021/b/O/U75eIqSyqDXkAymFbX9A/comcap-sintrasem-sc.jpeg)
